
JERÓNIMO de SOUSA PONTES
Romance
(Extracto de inédito)
(Extracto de inédito)
Uma Estória de Suposições
(No paraíso de homens crentes)
Uma viagem aos sítios,
Aos costumes, às pessoas,
Às gerações passadas,
presentes e futuras.
O quarto sono, o quarto sonho
(Para falar do m’bilá, prepare-se, leitor, para um episódio ocorrido em casa do Hyéros)
A Roça Praia das Conchas tinha duas sanzalas: uma ficava perto da casa dos empregados (negros e brancos que compunham o corpo administrativo) e a outra chamava-se Capitania.
Certa vez, Relof e Syul foram passear ao pé da Capitania. Era um pequeno atalho que ia desembocar numa povoação, algures no noroeste do terreiro. Situava-se lá no alto da colina, incompreensivelmente afastada de outros aglomerados, como se tratasse de um lugar somente para os doentes contagiosos.
No sopé da montanha, por onde passava o atalho, havia uma fruteira. Engraçado! O meu pai dizia que ele não comia a fruta-pão, por causa de excesso de carbo-hidratos, que a fruta-pão não tinha qualquer valor nutritivo, que só servia de alimentação aos porcos. Mas os angolares, que eram muito mais inteligentes do que o meu próprio pai, apostaram na fruta-pão, e fizeram dela batata-inglesa. Talvez por isso, quando o meu pai caíra no desemprego, a primeira árvore que ele mandara introduzir na sua quinta foi precisamente a da fruta-pão. Não só no-la mandou transportar e plantar uma, mas três (vida cabalística essa), ainda por cima, no tempo seco, de maneira que, sem a água das chuvas, a alternativa fôssemos nós, com a mangueira, regando as três portentosas fruteiras, de fio a pavio.
Foram estas três fruteiras que, nos tempos das vacas magras, nos mantiveram erectos e vivos. As árvores enchiam-se de frutas e transmitiam uma sensação de poder, de abundância e de segurança.
Meu pai descomplexou-se de vez. Nas horas livres, também porque estava no desemprego, ensinava-nos as artes de preparar, “limpar”, frutas-pães assadas. Para alguém que detestava comer fruta-pão, era, no mínimo, um pequeno milagre. Primeiro, introduzia as frutas numa labareda – uma fogueira de lenhas, íngreme. As frutas assadas saíam com as cascas totalmente carbonizadas. De seguida, por opção, ou retirava-lhes as cascas ou limpava-as com uma faca, até que toda a parte queimada desse lugar a uma nova casca, em tudo semelhante a de um pão, acabado de sair do forno. Contudo, o meu pai continuava a defender que era perda de tempo.
- Ó pai, o senhor acha ser perda de tempo preparar uma comida como deve ser?- Não acho. Tenho a certeza. Se eu não conhecesse outro método...
Meu pai arranjou um tambor vazio e encheu-o de água. Mas também podia ter sido um balde. Depois mergulhou umas duas ou três frutas na água. Quando as cascas das frutas já estavam bem amolecidas, retirou-as da água. E com uma faca bem afiada, pôs-se a raspá-las, até ficarem quase brancas. Entre uma fruta-pão e uma careca, não havia qualquer diferença.
A diferença punha-se somente ao nível do comestível e do incomestível. Podia-se comer uma fruta-pão, mas nunca a cabeça de uma pessoa, por mais que se parecesse com um pão.
Tudo isso por causa dos angolares. Graças aos angolares e ao seu saber preservar o que a terra dá, ainda a razão da nossa existência! Mas quem são os angolares? Donde vieram? Como vieram? – É, com certeza, um outro mistério. É através do saber milenar dos angolares que pude compreender a força dos mistérios. O meu pai compreendeu finalmente a força da tradição. Será que o meu velho vai acreditar mesmo na força dos mistérios?
Mas se o mistério existe, existe mesmo. Vou provar por que digo que o mistério existe. Uma vez, eu vivia com o meu pai, a minha mãe e os meus dois irmãos. Tanto o Relof como o Syul, eram ambos meus meios-irmãos. Syul era filho do meu pai com outra mulher. Relof pertencia à minha mãe, pois tinha outro pai.
Naquele dia, quando eram doze horas, o sino do escritório bateu doze badaladas. Deu-se o silêncio, um silêncio aterrador – hora dos mortos.
Meio-dia e meia noite era um espaço unicamente reservado aos finados (pelos vivos?!... ou simplesmente um espaço conquistado aos vivos pelos mortos?). Nessa hora, os trabalhadores ou descansam ou agrupam-se em baixo de uma árvore para almoçar - hora perigosa! Hora em que os defuntos intrometem no mundo dos vivos. O único barulho que se podia escutar, naquele momento, vinha precisamente dos fantasmas, marcando a sua presença no mundo dos vivos – (assim na terra como no céu). Daí que, os miúdos, como geralmente são os que nada temem, porque, na verdade, também nada devem, inadvertidamente, acabem por violar o espaço proibido – o espaço dos mortos. Ou fazem-no, porque se esquecem ou, por necessidade de se liberarem; ou, por não terem assimilado correctamente os inúmeros teoremas enunciados pelos mais velhos, vão brincando com as coisas sérias da vida! Acham que, só por serem crianças, tudo quanto sabem, não careça contestação. Os seus saberes, interpretados como teoremas transformados, de certo modo, em verdade acabada, podem alterar o mundo dos adultos e conduzir a caos.
O verdadeiro axioma, no mundo infantil, na interpretação adulta, não passa de um simples exercício teorético. Daí o princípio e não o fim do caos.
O caos é uma evidência que se estabelece sempre que há a intromissão dos vivos no mundo dos mortos. Mas a inocência consciente é uma realidade que, quando introduzida, por irracionalidade ou por simples competição, poderá remeter para o sucesso ou para o insucesso, tomando como ponto de partida a maré da sorte ou do azar.
Se tivermos azar, saímos magoados. Caso contrário, ganhamos. E o melhor seria termos a consciência dos nossos actos, para não entrarmos desnecessariamente nos jogos de azar. Às vezes, as crianças ignoram os conselhos dos mais velhos porque, desse modo, isentos de qualquer responsabilização, acham que vencem. Outras vezes, saem derrotadas. Mas quando a derrota é muito pesada, sobra, infelizmente, para os adultos.
Naquela hora, meio-dia, os meninos sabem que devem parar as suas brincadeiras. Devem dirigir-se a casa, para almoçar. Sabem que é hora dos mortos e podem sofrer as consequências, se pisarem uma sombra ou se forem atingidos por "ventu bluku".
- Samum, ó Samum, venha depressa.- Que aconteceu para me estares a chamar com tanto alarido? Está alguém a morrer? Que alarmismo é esse? - Inquiriu a minha mãe.
- Olha, Samum, isso não é brincadeira, não. Os menino estão a morrer.
- Ó Domingos, tu e o Lázaro, transportem os meninos lá para dentro de casa. – Ordenou a minha mãe.
- Tu, Zeferino, mexe-te. Vai a correr ao hospital chamar o Sr. Enfermeiro (pai dos miúdos, ou pelo menos um deles?).
Quando o meu pai chegou a casa, como que possuído pelo defunto que possuíra os dois garotos, acusou a minha mãe de ter sido ela a orquestrar toda essa situação. Que tivesse sido ela, presumivelmente, a envenenar o seu filho, o outro meu irmão, filho dele com uma outra mulher. E quanto ao outro, nem uma palavra!
Naquele tempo, era quase impossível ter um meio de transporte próprio, por isso eram os patrões a investirem em ambulâncias. Muitas vezes, eram os tractores a substituirem as camionetas de caixa-aberta ou eram os próprios serviçais que se faziam de ambulâncias. Contudo havia uma roça que se punha ao nível do próprio Estado – a Roça Rio do Ouro, propriedade pertencente ao Conde de Valle Flor. Era uma espécie de micro-Estado, dentro do grande universo colonial santomense. Naquela Roça, tanto as superstruturas como as infra-estruturas eram adequadas, funcionais.
Cansados, e receando o pior, os dois serviçais, finalmente, chegaram à vila de Guadalupe – um deles, ambulância da minha mãe; outro, ambulância do meu pai.
A mãe do Syul vivia na capital da Colónia. Após a notícia sobre a situação de saúde do filho, recebera o apoio financeiro do meu pai, o mesmo que não acreditava na força dos mistérios. A situação era de tal modo preocupante, que ele acabara por ceder, mostrando-se, entretanto, duvidoso por causa das suas convicções religiosas. É que o caso não era para menos. Negar um gesto ou dar um passo em falso, ficava ele responsabilizado, como aquele que contribuiu para a morte do próprio filho. Então, mais que simples desejo, preferiria, mil vezes, curar o filho do que enterrá-lo.
Relof, sem qualquer apoio do meu pai, teve que contar, exclusivamente, com a criatividade da minha mãe.
Toda a gente da vila quis solidarizar-se de alguma maneira. Sam Dankla e as suas amigas arranjaram um bom curandeiro (kulandelu) e puderam assim salvar o Syul. Foi uma intervenção forte, que nem aos polícias que acorreram ao local, para prenderem os gentios, poupou. Todos tomaram o santo[1] e dançaram o djambi.
Os polícias, quando acordaram da situação extasiante em que se encontravam, nem souberam para onde foram parar as armas.
Minha mãe, ao longo dos anos, vinha amealhando a sua parca economia, já a contar com tragédias desta natureza. Com o dinheiro amealhado, pagou o Zeferino pelo transporte do filho, de Praia das Conchas à vila de Guadalupe.
- Obrigado, obrigado... Deus paga Samum. Filho de Samum vai ficá bom. (Deus lhe pague, senhora, o seu filho haverá de ficar bom).
Como a minha mãe tinha amizades na vila, e sendo ela também de lá, pôde facilmente arranjar um excelente curandeiro – pois tratava-se de doença espiritual. As doenças do espírito não se curam nos hospitais. Quem não sabe isso?
Dino de Sousa, assim se chamava o curandeiro. Era um temível curandeiro, homem de poucas palavras, fechado nas suas conchas. Media aproximadamente 1,90 m de altura. Pelo seu andar, deixava-se antever que tinha defeito numa perna. Mas o certo é essas calças esconderem no seu interior uma grande chaga. Ia assim, cambaleando, para o seu paço.
O paço espiritual do Dino de Sousa não passava de uma barraquita, uma espécie de Quixpá[2], construída somente com materiais locais: “vá-plegá”[3], para as paredes; “pavu” (andalas trançadas) para a cobertura; “pó-blutu” (madeira não trabalhada), no esqueleto da casa. O soalho era o próprio chão de terra-batida.
No interior da barraca estavam depositados vários amuletos africanos, bem como imagens de santos da igreja católica romana. Ao centro, defronte à porta da entrada, erguia-se um grande altar sobre o qual se podia vislumbrar uma majestosa imagem do Nosso Senhor, cruelmente pregado numa cruz.
Os olhares do Mestre eram demasiado severos, fixos nos que o solicitavam, no seu eterno silêncio. A sua expressão, logo à entrada, insinuava expurgar, diante de si, todas as almas impúdicas que lá iam incomodá-lo, os descrentes.
Dino, em jeito de Sumo Respeito, perante a imagem crucificada de Jesus Cristo, ajoelhou-se e orou durante vários minutos. Traçou, com rosto carrancudo, o diagnóstico do meu irmão Relof. Feito o diagnóstico, começa-se a cerimónia:
Zugu-Zugu ka ma mira Ka ma mira wha xani
Intraduzível! Linguagem mística dos ancestrais escravos, só ao alcance dos que lidavam com seres superiores. Os olhos do Dino de Sousa, de um momento para o outro, abriram-se em tamanho da lua cheia, como que saltando da órbita. – Tomou o santo[4].
Entrado em êxtase, os dentes do Dino semicerram-se e puseram-se a ranger, provocando um som estridente. Dino procurava abrir a boca para comunicar com os seus ajudantes, mas as forças do mal, aí instaladas, impossibilitavam-no de pronunciar palavras, perceptíveis aos ouvidos dos comuns mortais. O que lhe saía da boca não passava de soltos monólogos, somente decifráveis por Zinha, a única que estava dotada de poderes sobrenaturais desde a nascença.
- Quem não conhecia a Zinha Sam Kinha?
Zinha Sam Kinha ascendera a forra, tal como todos os outros da etnia angolar que, num certo dia, abandonaram a vida do mar e foram fixar-se nas vilas, cidades e luchans (aldeias). Foi por isso que muitos angolares já não vivem no Vadji Ngolá (várzea dos angolares).
Os angolares, como não se sentiam totalmente integrados nas coisas da vila forra, formaram um pequeno grupo na orla do Vadji Ngolá, perto da sede de kanhera (canhoneira), para onde foram viver.
Kanhera era um “Bailé Sokopé” (agrupamento cultural e recreativo da vila de Guadalupe). Todos os membros do socopé (dança praticada só com os pés), ajuntavam-se num amplo quintal onde realizavam os ensaios. Uns tocavam o tabaque, outros o kanzá (reco-reco), apito, wémbé (tambor grande, de som muito agudo), chocalho, ferro, etc.
Em torno da sede Kanhera, ladeavam-na as casas dos actuais residentes, formando uma coesa vizinhança. Não se sabe, ao certo, a origem do grupo kanhera. Sabe-se, no entanto, que se deve, provavelmente, a mais uma criação do regime do Estado Novo.
Nos dias festivos, o grupo actuava trajado a rigor. Todos uniformizados, à maneira de marinheiros, entoavam as mais variadas canções, ao som repicado dos tambores, das flautas, etc. Conta-se que foi numa dessas festas, que Sum Malé Semwã e Sum Tshindu Dentxi Bandêndê, ilustres representantes do regime, deferiram um duríssimo golpe sobre o grupo congénere de kanhera, vindo expressamente da Praia de Mouro-Peixe, às ordens do Sr. Governador: OS VIN MATCHA PINA TCHILADÔ BÉBÉ FALA[5] para tomar parte nessas actividades.
Quando a festa já ia bastante animada, bruscamente, os tocadores de OS VIN MATCHA PINA TCHILADÔ BÉBÉ FALA resolveram acabar com a folia. O povo, não gostando da atitude, protestou e gritou palavrões. Mas os tocadores acharam que tinham razão. Queixaram-se de ter havido irregularidades na atribuição dos apoios:
- Ó Mé Búnhé. Afinal, vocês receberam o dinheiro do governador e dizem que já não tocam? Cambadas de malandros!
- Nem pensar – Responde o Xídé – Vão perguntar Sum Sêmwã ku Sum Dentxi Bandêndê (perguntem lá aos senhores Sêmwã e Dentuça). Eles receberam o dinheiro, pipas de vinho e comida do Sô (Senhor) governador pa (para) nós. Mas a gente tocou a noite inteira sem comer nem beber. Nem um copo-d’água, nem um copo de vinho; nem um tostão, nem um prato de comida. Nada! A escravatura já acabou.
- Quem quer dançar de graça, vai lá dançar com Sum Sêmwãn e Sum Dentxi Bandêndê (quem quiser dançar de graça que vá dançar com os senhores Sêmwãn e Dentuça). – Concluiu Ma Maguita.
- Toda a gente sabe que eles pegaram no vinho e meteram nas suas lojas. A gente tocou com fome e com sede, até de madrugada. Nem uma pinga de vinho para alegrarmos o espírito, nada! – Berrou a Liská .
- Eles hão-de ficar aqui, desgraçados! Não vão longe! Havemos de os ver pobres e miseráveis a sofrer. Nós tocámos, dançámos, ainda por cima, descalços, nesse chão frio sobre o muro. Paciência! Diabo que os leve para o inferno – praguejou Sum Kinta, o chefe do grupo.
Enquanto isso, na tenda do Dino de Sousa, a cura do meu irmão continuava. Às ordens do curandeiro, os seus ajudantes estenderam o Relof sobre uma esteira, de peito para cima. Dino de Sousa mediu-lhe o pulso e, com a sabedoria de um médico, exclamou:
- Se demorassem só mais cinco minutos, o garoto não escapava. Eu nem pegava nele.
Muito calmamente, se é que alguma vez precisou de pressa para o que quer que fosse, acendeu as velas, espalhou o vinho e queimou o incenso juntamente com o alecrim. Invadiu o ar um cheiro purificador. A efusão entrara em acção, sacralizando o espaço para a eficiência da cura.
Dino de Sousa multiplicou-se em expedientes. As misturas e a azáfama foram-se sucedendo, ao ponto de a sala ficar totalmente enevoada. Não se conseguia ver nada, à distância de 1 metro. - Danou-se o mestre – então, com uma vassoura de cabo curto, Dino de Sousa pôs-se a espantar o espírito maléfico que se tinha apoderado da alma do meu irmão. Era, sem dúvida, uma tarefa, em si, difícil e complicada, porque implicava lutar contra os seres superiores, defuntos cujas almas zanzavam, sem paradeiro, tendo como moradia o m’bilá.
As horas pareciam intermináveis, o que tornava cada vez mais angustiante a espera agoirenta da minha mãe. Transportar o menino para o hospital, nem penar. Aplicando-lhe injecções, nesse estado, era morte certa. Doente de mato não pode ir ao hospital – acreditava minha mãe piamente.
- Dá licença, comadre. – Pede Zinha em voz respeitadora e familiar. Toma um pouco de canja. Come para a comadre ter força. Confia em Deus. Deus é grande. Ninguém morre atrás do dia. Cada um tem o seu dia. Coragem minha comadre.
Olhando para a comadre, como que lhe adivinhasse os pensamentos, continuou Zinha Sam Kinha:
- Olha que o filho do Sum Fliku Plétu veio p’aqui assim mesmo. Mas Dino pegou nele, um instante só. Tá lá rapaz lá a corrê, a saltá que nem cabra (Mas o Dino pegou-o, num instante, já estava bom. Lá está o rapaz a correr e a saltar que nem uma cabra).
A minha mãe sorriu desconfiada, o que suscitou, na altura, um reparo muito sério da Zinha:
- Xê, comadre não acredita? Ãh, N kêcê, kwa ten sa mwala funshonário (ah, esqueci-me, afinal a senhora é mulher de um funcionário...). Por isso a comadre pensa que a gente está a brincar. Nós é burra sim, mas nessas coisa de mato, ninguém engana nós. Concluiu Zinha (ah, tinha-me esquecido de que a senhora é mulher de um funcionário. Por isso a comadre pensa que estamos a brincar. Nós somos burras sim, mas nessas coisas do mato "coisas espirituais"ninguém nos engana).
Dino de Sousa afastava os maus espíritos com determinação. Enquanto isso, Zinha cuidava do doente, limpando-lhe o suor que descia da testa em torrente, com um pedaço de pano semi-molhado.
Na ausência de uma ventoinha, Sam Kinha, mãe da Zinha, com um leque de úlwa,[6] abanava o efémero, pacientemente. Mesmo se houvesse ventoinha, não havia energia, por isso tiveram que improvisar. Quem não improvisa alguma coisa nesta vida de improvisos?!
Depois de quatro horas de um Djambí[7] bem tocado, o lugar transformou-se numa autêntica fumarada. – Parecia-se com a panela de um comboio a vapor.
Depois de quatro horas de um Djambí[7] bem tocado, o lugar transformou-se numa autêntica fumarada. – Parecia-se com a panela de um comboio a vapor.
Lentamente, os olhos do meu irmão começaram a abrir-se. Aos poucos, começou por vislumbrar, aqui e ali, silhuetas imperceptíveis de pessoas, coisas e objectos, que se encontravam no interior da barraca. Mas quando finalmente os seus olhos se cruzaram com os ríspidos e intransigentes olhares do Senhor crucificado, deu um grande grito, pulou do leito improvisado, chocou abruptamente com uma das paredes da barraca, derrubando-a contra a multidão que aguardava, da parte de fora, e raspou-se dali que nem uma flecha. Até parecia que tinha asas nos pés.
Os curiosos que aguardavam, impacientemente, pelo sucesso da cura, perante o alvoroço que provinha do interior da barraca, desataram a correr em pânico.
- Kidalê-ô, kidalê-ô, povo-ê, à bi Zuda non fã...! Djina ku Dino Ka fé mindjã naí, n nachi bê moda kwa sé fá...plumê vê! (aqui-del-rei, aqui-del-rei, ó povo, ajudai-nos. Porque desde que o Dino faz cá o tratamento, não me lembro de ter presenciado uma coisa destas). – Comentou Sam Zuliana, pasmada!
- Está curado, está curado – bradou Sam Kinha, mãe da Zinha.
O cheiro da "muta" ficou gravado no meu nariz, durante pelo menos três semanas. Trata-se dum cheiro nauseabundo duma poção fabricada, especialmente para afugentar tanto os "espíritos maus" como as bruxas. Pega-se na "zaua vé"[8], "óvu pódlé"[9] e mais uma série de compostos, mistura-se tudo numa lata. Mal aconteça algum caso ligado ao sobrenatural, é automaticamente aplicada a famosa "muta". Não há defunto que a resista!
Os alvos preferidos, no banho da "muta", são os "piucus". "Piucus" ou (piá ukus) ou "vidjukus" (vidja ukus), eram homens, muitos deles "bolilos" (impotentes) que se agachavam por perto das casas de mulheres que, na ausência dos maridos, os traíam com amantes - a fim de se inteirarem da sua vida privada, para a provável divulgação na praça pública. Quando esses infractores eram apanhados em flagrante, as mulheres, escondidas atrás das janelas de suas casas, aplicavam-lhes o perfumado banho (de muta). Era assim que se curava a coscuvilhice em S. Tomé – um método eficaz e tanto.
Dino de Sousa, quando "montado", ganhava energia de uma pantera. A lentidão da sua chaga transformava-se em energia, de uma velocidade sem par. Pegou num pequeno crucifixo e saiu correndo atrás do Relof.
Relof, ainda assustado e meio atordoado, continuava a correr, sem limite nem intenção de parar. Ao dobrar a esquina, para entrar no quintal de Sam Ma Néné, tropeçou na raiz de uma cajamangueira e caiu. Automaticamente é alcançado por Dino de Sousa. Mal conseguia abrir os olhos.
Relof ainda não estava totalmente restabelecido do susto que apanhara na tenda do curandeiro. Dino de Sousa, então, não perdendo tempo, sacou do bolso um pequeno crucifixo preto e colocou-o no peito, semi-aberto, do meu irmão. Com a mão esquerda, retirou do bolso um frasco com uma efusão líquida. Molhou o indicador direito com o líquido retirado da garrafita, fez uma cruz no peito do paciente, tanto no lado direito como no esquerdo; fê-lo uma cruz na testa, outra atrás da cabeça, outra no centro da cabeça, outra um pouco abaixo do umbigo; uma em cada joelho, outra atrás dos joelhos; uma atrás de cada orelha e finalmente uma em cada planta dos pés.
Quando o Dino finalizou o trabalho, Relof estremeceu como que se estivesse a ser atacado por umas fortes febres. Aí aconteceu o insólito: saiu do seu corpo uma grande sombra. A sombra afastou-se dele e do curandeiro, uns 10 metros de distância. Aos poucos, a sombra foi crescendo, crescendo, até ganhar forma humana. A multidão que acorreu atrás do acontecimento, parou incrédula a observar. Dino, perante o perigo, gritou:
- Fujam daqui e levem o moço já convosco.
A sombra recuperou totalmente a forma humana e continuou a crescer, crescer, crescer, ainda mais, tombando para frente e para trás. Entretanto, alguém se lembrou de espalhar a água benta e gritar credo.
A "alima bluku", pela interferência da oração, [10]cresceu cerca de cinquenta metros ou mais de altura. Dino de Sousa foi-lhe controlando os movimentos, porque se este caísse sobre ele, era morte certa.
Então, quando a "alima bluku" pensara em atirar-se contra o curandeiro, este passou-lhe por entre as pernas abertas. O defunto desequilibrou-se, várias vezes, e partiu-se ao meio. Por onde caiu, aconteceu uma onda de devastação – nada ficou de pé. No dia seguinte, o rasto da destruição foi parar ao "m’bilá" que Relof e Syul tinham pisado.
Depois do lamentável incidente que levou o meu irmão ao paço do Dino de Sousa, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Entretanto, Relof melhorara a olhos vistos, o que só veio a galvanizar o prestígio do Dino de Sousa.
Um triste incidente que devia ter conhecido outros contornos, veio alterar substancialmente tudo.
Meu pai, penso que não soube esconder a vergonha, nem admitir a culpa, pela forma como lidara com o assunto. Acho que foi por isso que ele alugara uma casa de alvenaria na vila de Guadalupe, no Vadji Lama-lama, para onde fomos morar, quando deixámos a roça.
Lembro-me desse tempo. Chovia, chovia e chovia. Mas nenhuma chuva de S. Tomé chegaria para pacificar tantas almas penadas algures sentadas sobre o seu "m’bilá", nas antigas roças de cacau – um perigo para quem não acredita, num tempo em que já não há curandeiros tipo Dino de Sousa.
[3] Ramos de palmeiras que se colocam uns sobre outros. Depois de rachados, perfurados por estacas pontiagudas, tendo por base troncos de bananeiras, na posição horizontal, até formar uma parede, aproximadamente entre 1,8m altura e 2m ou mais de largura, muito utilizada na construção de habitações tradicionais ou cercados
[4] Entrou em transe/ êxtase
[5] Vinho de elevada percentagem de álcool, que, bebendo-o, por pouco que seja, fica-se logo bêbado. Fig. Troca-tintas, “toma bé, toma bi”; intriguista
[6] Folhas de uma árvore de grande porte, geralmente utilizada como leque
[7] Música e dança exclusivamente praticadas em rituais secretos (magia negra)
[8] Chichi de muitas semanas
[9] Ovos de galinha estragados
[10] Alma penada, com poderes de grandes maldições























.jpg)

















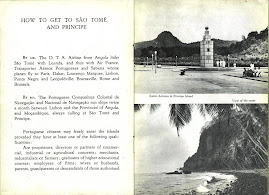
Nenhum comentário:
Postar um comentário